Vinte e quatro horas
Era interessante se lá fora não estivesse a chover. Mas está. A chuva cai nas folhas já ensopadas e eu não consigo encontrar uma linha na página pautada que tenho na mão.
Penso apenas: "ainda bem que não sou um caracol, que não tenho a sua lentidão, ou morreria de stress prematuramente!" Depois encontro alguém a correr a alta velocidade, ou num carro desportivo topo de gama e desejo ser um caracol, para poder ter mais alguma velocidade.
É claro que também odiava ser aquela minhoca que rasteja por debaixo do solo, cega, engolindo os pequenos minerais que lhe chegam ao seu tracto digestivo - coitada, não pode nem contemplar a luz do Sol. Depois quando saio à rua e o Sol me faz doer os olhos, desejo poder enterrar-me nas profundezas dos abismos da Terra para não ter de suportar aquela dor.
Pára de chover entretanto, mas o vento ainda sopra e eu olho a pétala que cai docemente no pavimento alcatroado, para de seguida um carro lhe passar por cima, deixando nela uma impressão de pneu. Sinto-me horrivelmente esmagado por este acto de insana loucura e sadismo e apetece-me vazar os olhos ao condutor por ter prostituído a beleza... Não - nem foi prostituição, que essa envolve pagamento e neste caso apenas houve... violação! Foi o condutor que rasgou o interior do próprio conceito de beleza, que o esmagou debaixo de si! (Vi, no dia seguinte, que afinal era uma mulher quem conduzia o carro àquela hora, todos os dias... A agridoce ironia quase me fazia chorar.)
Ouço finalmente o tiquetaque do relógio. É velho, de parede, dos antigos. Cada badalada a meio da noite é um tiro de caçadeira nos meus miolos, e o meu quarto fica então regado com sangue, neurónios, células de glia, neurotransmissores, pedaços de osso e pele e uma vida que foi outrora... Só quando o despertador toca é que tudo volta ao sítio: a carne, o osso e a pele reconstroem-se por magia e eu fico sem saber se o relógio me matou com um tiro de caçadeira. É claro que, uma hora depois, ao chegar à escola, bastam dez minutos para desejar que o pesadelo que se repete todas as noites tivesse sido real.
São 22:30, diz o meu relógio de pulso digital. «Porra!», exclamo. É da fadiga, claro. Só pode ser. Mas a verdade é que não me faço rogado. Toco-me. Venho-me. Limpo-me. Não adormeço. Reviro-me na cama e só sei pensar: «Porra. Porra... porra, porra porraporraporraporra!» Pergunto-me pela porra do significado da porra da palavra "porra"... Porra, não o sei! E o dicionário está a mais de dez centímetros de mim, portanto que se lixe o dicionário e mais a porra da palavra que uso sem saber exactamente - porra!, quero eu dizer "minimamente" - o que significa.
Foram vinte e quatro horas - daqui a nada serão os meus miolos novamente espalhados na parede - e nada se fez realmente. Penso no vento, que todos creêm que "passa" e que não faz nada: «os estúpidos e ignorantes que inventaram essa metáfora deviam estar a dormir! Levem lá com um furacão nos cornos e vejam se por acaso o vento não faz nada, ó espertinhos!» Depois choro. Não me reconheço nestas barbaridades todas. Não era assim que eu era antes de me virem derrubar do poleiro instável onde mantive a minha mente intacta durante tanto tempo. Cresci tanto que me esqueci de como é que se usavam os olhos para olhar para baixo, o que me levou a engordar, a encher, a insuflar como um balão... mas de chumbo, de pirite, de estrume infecto e rançoso.
Continuo sem conseguir encontrar uma linha numa página pautada. Só vejo traços irregulares gravados no papel e penso se não será isso a que chamam linha. O problema é que para mim uma linha conduz a alguma coisa, nem que seja ao infinito, enquanto que estas, ao chegarem ao fim da página, se precipitam no nada. E do nada já eu estou farto. Pego na caneta e desenho o símbolo de infinito, irregularmente. «Aí está uma linha decente, ó idiotas!», exclamo em voz alta. Só depois é que vejo que perdi o princípio e que por causa disso vou perder o fim.
Penso apenas: "ainda bem que não sou um caracol, que não tenho a sua lentidão, ou morreria de stress prematuramente!" Depois encontro alguém a correr a alta velocidade, ou num carro desportivo topo de gama e desejo ser um caracol, para poder ter mais alguma velocidade.
É claro que também odiava ser aquela minhoca que rasteja por debaixo do solo, cega, engolindo os pequenos minerais que lhe chegam ao seu tracto digestivo - coitada, não pode nem contemplar a luz do Sol. Depois quando saio à rua e o Sol me faz doer os olhos, desejo poder enterrar-me nas profundezas dos abismos da Terra para não ter de suportar aquela dor.
Pára de chover entretanto, mas o vento ainda sopra e eu olho a pétala que cai docemente no pavimento alcatroado, para de seguida um carro lhe passar por cima, deixando nela uma impressão de pneu. Sinto-me horrivelmente esmagado por este acto de insana loucura e sadismo e apetece-me vazar os olhos ao condutor por ter prostituído a beleza... Não - nem foi prostituição, que essa envolve pagamento e neste caso apenas houve... violação! Foi o condutor que rasgou o interior do próprio conceito de beleza, que o esmagou debaixo de si! (Vi, no dia seguinte, que afinal era uma mulher quem conduzia o carro àquela hora, todos os dias... A agridoce ironia quase me fazia chorar.)
Ouço finalmente o tiquetaque do relógio. É velho, de parede, dos antigos. Cada badalada a meio da noite é um tiro de caçadeira nos meus miolos, e o meu quarto fica então regado com sangue, neurónios, células de glia, neurotransmissores, pedaços de osso e pele e uma vida que foi outrora... Só quando o despertador toca é que tudo volta ao sítio: a carne, o osso e a pele reconstroem-se por magia e eu fico sem saber se o relógio me matou com um tiro de caçadeira. É claro que, uma hora depois, ao chegar à escola, bastam dez minutos para desejar que o pesadelo que se repete todas as noites tivesse sido real.
São 22:30, diz o meu relógio de pulso digital. «Porra!», exclamo. É da fadiga, claro. Só pode ser. Mas a verdade é que não me faço rogado. Toco-me. Venho-me. Limpo-me. Não adormeço. Reviro-me na cama e só sei pensar: «Porra. Porra... porra, porra porraporraporraporra!» Pergunto-me pela porra do significado da porra da palavra "porra"... Porra, não o sei! E o dicionário está a mais de dez centímetros de mim, portanto que se lixe o dicionário e mais a porra da palavra que uso sem saber exactamente - porra!, quero eu dizer "minimamente" - o que significa.
Foram vinte e quatro horas - daqui a nada serão os meus miolos novamente espalhados na parede - e nada se fez realmente. Penso no vento, que todos creêm que "passa" e que não faz nada: «os estúpidos e ignorantes que inventaram essa metáfora deviam estar a dormir! Levem lá com um furacão nos cornos e vejam se por acaso o vento não faz nada, ó espertinhos!» Depois choro. Não me reconheço nestas barbaridades todas. Não era assim que eu era antes de me virem derrubar do poleiro instável onde mantive a minha mente intacta durante tanto tempo. Cresci tanto que me esqueci de como é que se usavam os olhos para olhar para baixo, o que me levou a engordar, a encher, a insuflar como um balão... mas de chumbo, de pirite, de estrume infecto e rançoso.
Continuo sem conseguir encontrar uma linha numa página pautada. Só vejo traços irregulares gravados no papel e penso se não será isso a que chamam linha. O problema é que para mim uma linha conduz a alguma coisa, nem que seja ao infinito, enquanto que estas, ao chegarem ao fim da página, se precipitam no nada. E do nada já eu estou farto. Pego na caneta e desenho o símbolo de infinito, irregularmente. «Aí está uma linha decente, ó idiotas!», exclamo em voz alta. Só depois é que vejo que perdi o princípio e que por causa disso vou perder o fim.




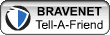
<< Home